Se
tornou comum ouvimos o termo falácia, seja em um debate político, seja em uma argumentação acadêmica ou até mesmo em vídeos no youtube.
Mas você sabe o que significa este termo? Consegue identificar
quando alguém usa uma falácia? Consegue perceber quando você
utiliza termos falaciosos? Para te ajudar nessa questão, nós do
Blog Marca Páginas fizemos uma seleção das falácias mais
utilizadas portanto, se acomodem, fiquem confortáveis e vamos nessa.
Origem
O
termo falácia
deriva
do verbo latino fallere,
que significa enganar, Ilusão, sofisma. Designa-se por falácia um
raciocínio errado com aparência de verdadeiro. Na
lógica
e
na retórica, uma falácia é um argumento
logicamente
inconsistente, sem fundamento, inválido ou falho na tentativa de
provar eficazmente o que alega. Argumentos que se destinam à
persuasão
podem
parecer convincentes para grande parte do público apesar de conterem
falácias, mas não deixam de ser falsos por causa disso.
Reconhecer
as falácias é por vezes difícil. Os argumentos falaciosos podem
ter validade emocional, íntima, psicológica, mas não validade
lógica. É importante conhecer os tipos de falácia para evitar
armadilhas lógicas na própria argumentação e para analisar a
argumentação alheia. As falácias que são cometidas
involuntariamente designam-se por paralogismo
e
as que são produzidas de forma a confundir alguém numa discussão
designam-se por sofismas.
É
importante observar que o simples fato de alguém cometer uma falácia
não invalida toda a sua argumentação. Ninguém pode dizer: "Li
um livro de Dawkins , mas ele cometeu uma falácia, então todo o seu
pensamento deve estar errado". A falácia invalida imediatamente
o argumento no qual ela ocorre, o que significa que só esse
argumento específico será descartado da argumentação, mas pode
haver outros argumentos que tenham sucesso. Por exemplo, se alguém
diz:
"O
fogo é quente e sei disso por dois motivos:
ele
é vermelho; e
medi
sua temperatura
com
um termômetro ".
Nesse
exemplo, foi de fato comprovado que o fogo é quente por meio da
premissa 2. A premissa 1 deve ser descartada como falaciosa, mas a
argumentação não está de todo destruída. O básico de um
argumento é que a conclusão deve decorrer das premissas. Se uma
conclusão não é consequência das premissas, o argumento é
inválido. Deve-se observar que um raciocínio pode incorrer em mais
de um tipo de falácia, assim como que muitas delas são semelhantes.
Vamos
a exemplos práticos de falácias:
1.
Espantalho
Você
desvirtuou um argumento para torná-lo mais fácil de atacar.
Ao
exagerar, desvirtuar ou simplesmente inventar um argumento de alguém,
fica bem mais fácil apresentar a sua posição como razoável ou
válida. Este tipo de desonestidade não apenas prejudica o discurso
racional, como também prejudica a própria posição de alguém que
o usa, por colocar em questão a sua credibilidade – se você está
disposto a desvirtuar negativamente o argumento do seu oponente, será
que você também não desvirtuaria os seus positivamente?
Exemplo:
Depois
de Felipe dizer que o governo deveria investir mais em saúde e
educação, Pedro respondeu dizendo estar surpreso que Felipe odeie
tanto o Brasil, a ponto de querer deixar o nosso país completamente
indefeso, sem verba militar.
2.
Causa Falsa
Você
supôs que uma relação real ou percebida entre duas coisas
significa que uma é a causa da outra.
Uma
variação dessa falácia é a “cum
hoc ergo propter hoc”
(com isto, logo por causa disto), na qual alguém supõe que, pelo
fato de duas coisas estarem acontecendo juntas, uma é a causa da
outra. Este erro consiste em ignorar a possibilidade de que possa
haver uma causa em comum para ambas, ou, como mostrado no exemplo
abaixo, que as duas coisas em questão não tenham absolutamente
nenhuma relação de causa, e a sua aparente conexão é só uma
coincidência.
Outra
variação comum é a falácia “post
hoc ergo propter hoc”
(depois disto, logo por causa disto), na qual uma relação causal é
presumida porque uma coisa acontece antes de outra coisa, logo, a
segunda coisa só pode ter sido causada pela primeira.
Exemplo:
Apontando
para um gráfico metido a besta, Rogério mostra como as temperaturas
têm aumentado nos últimos séculos, ao mesmo tempo em que o número
de piratas têm caído; sendo assim, obviamente, os piratas é que
ajudavam a resfriar as águas, e o aquecimento global é uma farsa.
3.
Apelo à emoção
Você
tentou manipular uma resposta emocional no lugar de um argumento
válido ou convincente.
Apelos
à emoção são relacionados a medo, inveja, ódio, pena, orgulho,
entre outros.
É
importante dizer que às vezes um argumento logicamente coerente pode
inspirar emoção, ou ter um aspecto emocional, mas o problema e a
falácia acontecem quando a emoção é usada no lugar de um
argumento lógico. Ou, para tornar menos claro o fato de que não
existe nenhuma relação racional e convincente para justificar a
posição de alguém.
Exceto
os sociopatas, todos são afetados pela emoção, por isso apelos à
emoção são uma tática de argumentação muito comum e eficiente.
Mas eles são falhos e desonestos, com tendência a deixar o oponente
de alguém justificadamente emocional.
Exemplo:
Lucas
não queria comer o seu prato de cérebro de ovelha com fígado
picado, mas seu pai o lembrou de todas as crianças famintas de algum
país de terceiro mundo que não tinham a sorte de ter qualquer tipo
de comida.
OBS:
Este tipo de falácia foi muito empregada na Segunda Grande Guerra
tanto pelo lado do Eixo quanto pelos Aliados, na tentativa de
reforçar o patriotismo de seus cidadãos.
OBS²:
Este tipo de falácia é muito empregado em discursos religiosos e de
apologia à ideias consideradas tabus ou contra a lei.
4.
A falácia da falácia
Supor
que uma afirmação está necessariamente errada só porque ela não
foi bem construída ou porque uma falácia foi cometida.
Há
poucas coisas mais frustrantes do que ver alguém argumentar de
maneira fraca alguma posição. Na maioria dos casos um debate é
vencido pelo melhor debatedor, e não necessariamente pela pessoa com
a posição mais correta. Se formos ser honestos e racionais, temos
que ter em mente que só porque alguém cometeu um erro na sua defesa
do argumento, isso não necessariamente significa que o argumento em
si esteja errado.
Exemplo:
Percebendo
que Amanda cometeu uma falácia ao defender que devemos comer
alimentos saudáveis porque eles são populares, Alice resolveu
ignorar a posição de Amanda por completo e comer Whopper
Duplo com Queijo no Burger
King
todos os dias.
5.
Ladeira Escorregadia ou Declive Escorregadio
Você
faz parecer que o fato de permitirmos que aconteça A fará com que
aconteça Z, e por isso não podemos permitir A.
O
problema com essa linha de raciocínio é que ela evita que se lide
com a questão real, jogando a atenção em hipóteses extremas. Como
não se apresenta nenhuma prova de que tais hipóteses extremas
realmente ocorrerão, esta falácia toma a forma de um apelo à
emoção do medo.
Exemplo:
Armando
afirma que, se permitirmos casamentos entre pessoas do mesmo sexo,
logo veremos pessoas se casando com seus pais, seus carros e seus
macacos Bonobo de estimação.
6.
Ad
hominem
Você
ataca o caráter ou traços pessoais do seu oponente em vez de
refutar o argumento dele.
Ataques
ad
hominem
podem assumir a forma de golpes pessoais e diretos contra alguém, ou
mais sutilmente jogar dúvida no seu caráter ou atributos pessoais.
O resultado desejado de um ataquead
hominem é
prejudicar o oponente de alguém sem precisar de fato se engajar no
argumento dele ou apresentar um próprio.
Exemplo:
Depois
de Salma apresentar de maneira eloquente e convincente uma possível
reforma do sistema de cobrança do condomínio, Samuel pergunta aos
presentes se eles deveriam mesmo acreditar em qualquer coisa dita por
uma mulher que não é casada, já foi presa e, pra ser sincero, tem
um cheiro meio estranho.
7.
Tu
quoque
(você também)
Você
evitar ter que se engajar em críticas virando as próprias críticas
contra o acusador – você responde críticas com críticas.
Esta
falácia, cuja tradução do latim é literalmente “você também”,
é geralmente empregada como um mecanismo de defesa, por tirar a
atenção do acusado ter que se defender e mudar o foco para o
acusador.
A
implicação é que, se o oponente de alguém também faz aquilo de
que acusa o outro, ele é um hipócrita. Independente da veracidade
da contra-acusação, o fato é que esta é efetivamente uma tática
para evitar ter que reconhecer e responder a uma acusação contida
em um argumento – ao devolver ao acusador, o acusado não precisa
responder à acusação.
Exemplo:
Nicole
identificou que Ana cometeu uma falácia lógica, mas, em vez de
retificar o seu argumento, Ana acusou Nicole de ter cometido uma
falácia anteriormente no debate.
Exemplo
2: O
político Aníbal Zé das Couves foi acusado pelo seu oponente de ter
desviado dinheiro público na construção de um hospital. Aníbal
não responde a acusação diretamente e devolve insinuando que seu
oponente também já aprovou licitações irregulares em seu mandato.
8.
Incredulidade pessoal
Você
considera algo difícil de entender, ou não sabe como funciona, por
isso você dá a entender que não seja verdade.
Assuntos
complexos como evolução biológica através de seleção natural
exigem alguma medida de entendimento sobre como elas funcionam antes
que alguém possa entendê-los adequadamente; esta falácia é
geralmente usada no lugar desse entendimento.
Exemplo:
Henrique
desenhou um peixe e um humano em um papel e, com desdém efusivo,
perguntou a Ricardo se ele realmente pensava que nós somos babacas o
bastante para acreditar que um peixe acabou evoluindo até a forma
humana através de, sei lá, um monte de coisas aleatórias
acontecendo com o passar dos tempos, demonstrando que Henrique não
entende o que significa o termo “evolução biológica” pois ele
considera que a evolução tem um ponto final (que segundo o ponto de
vista dele seria o ser humano); demonstrando, também, falta de
conhecimento dos mecanismo de como funciona a evolução, não
entendendo que não é aleatoriedade e sim pressão natural.
9.
Alegação especial
Você
altera as regras ou abre uma exceção quando sua afirmação é
exposta como falsa.
Humanos
são criaturas engraçadas, com uma aversão boba a estarem errados.
Em
vez de aproveitar os benefícios de poder mudar de ideia graças a um
novo entendimento, muitos inventarão modos de se agarrar a velhas
crenças. Uma das maneiras mais comuns que as pessoas fazem isso é
pós-racionalizar um motivo explicando o porque aquilo no qual elas
acreditavam ser verdade deve continuar sendo verdade.
É
geralmente bem fácil encontrar um motivo para acreditar em algo que
nos favorece, e é necessária uma boa dose de integridade e
honestidade genuína consigo mesmo para examinar nossas próprias
crenças e motivações sem cair na armadilha da auto-justificação.
Exemplo:
Eduardo
afirma ser vidente, mas quando as suas “habilidades” foram
testadas em condições científicas apropriadas, elas magicamente
desapareceram. Ele explicou, então, que elas só funcionam para quem
tem fé nelas.
10.
Pergunta carregada
Você
faz uma pergunta que tem uma afirmação embutida, de modo que ela
não pode ser respondida sem uma certa admissão de culpa.
Falácias
desse tipo são particularmente eficientes em descarrilar discussões
racionais, graças à sua natureza inflamatória – o receptor da
pergunta carregada é compelido a se justificar e pode parecer
abalado ou na defensiva. Esta falácia não apenas é um apelo à
emoção, mas também reformata a discussão de forma enganosa.
Exemplo:
Graça
e Helena estavam interessadas no mesmo homem. Um dia, enquanto ele
estava sentado próximo suficiente a elas para ouvir, Graça pergunta
em tom de acusação: “como anda a sua reabilitação das drogas,
Helena?”
Por
hoje é tudo pessoal.
Caio
Redondo
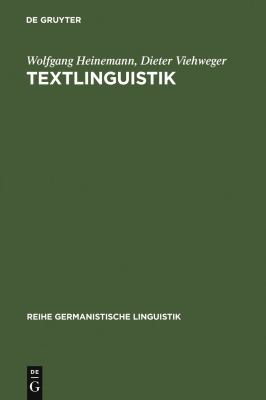 O texto deve ser entendido como um processo. O processamento textual acontece através de sistemas de conhecimento acionados no texto e no contexto de produção. Na produção textual, toda ação (fazer) é necessariamente acompanhada de processos de ordem cognitiva, de maneira que o sujeito dispõe de modelos e tipos de operações mentais. Os interlocutores, na comunicação, dispõem de saberes acumulados sobre os diversos tipos de atividades da vida social, eles têm conhecimentos na memória que precisam ser ativados para que a atividade seja efetivada com sucesso. Tais atividades geram expectativas e isso compõem um projeto nas atividades de compreensão e produção do texto.
O texto deve ser entendido como um processo. O processamento textual acontece através de sistemas de conhecimento acionados no texto e no contexto de produção. Na produção textual, toda ação (fazer) é necessariamente acompanhada de processos de ordem cognitiva, de maneira que o sujeito dispõe de modelos e tipos de operações mentais. Os interlocutores, na comunicação, dispõem de saberes acumulados sobre os diversos tipos de atividades da vida social, eles têm conhecimentos na memória que precisam ser ativados para que a atividade seja efetivada com sucesso. Tais atividades geram expectativas e isso compõem um projeto nas atividades de compreensão e produção do texto. 





